A linguagem não é a vida, a linguagem dá ordens à vida;
a vida não fala, a vida escuta e espera
Gilles Deleuze e Félix Guattari
Monolinguismo social. Consigna reacionária, falácia acrítica publicitada por uma ideologia político-linguística aparentemente dominada mas passiva de ser dominante. Bilinguismo social. Empírica, científica e democrática consigna usada pela atual ideologia político-linguística dominante para ocultar a dinâmica de um limpo, harmónico e equilibrado genocídio cultural que exclui desnecessárias e caras efusões de sangue ou vísceras.
Par de conceitos excludentes? Ou apenas duas formas, nacionalmente determinadas, de conceber a externidade do processo de controlo social através da língua? Dous nomes muito diferentes para um mesmo interesse: a definição de uma particular normalidade sociolinguística, modernamente delimitada por um processo prévio de normalização linguística que apresenta como objetivo a supressão de um conflito linguístico; ou seja, um processo de criação de um novo código de poder (padrão ou estándar) para a língua tradicionalmente excluída dos âmbitos de poder e cessão parcial destes ao novo código; um processo de criação ou simples reestruturação de elites políticas, técnicas e intelectuais planificadoras-definidoras da normalidade; um processo de remodelação, atualização ou refinamento dos mecanismos (aparelhos ideológicos) de controlo linguístico (e não apenas); um processo, por fim, e fundamentalmente, de manipulação identitária, de construção de uma comunidade imaginada, de uma nação.
No exemplo galego, até hoje a normalização linguística representa basicamente a instauração de um mercado linguístico de tipo capitalista que vem substituir apenas de jeito parcial ao previamente existente, a respeito do qual age em regime de autonomia subordinada ou interineidade de duração desconhecida. Portanto, trata-se na realidade de um simples processo de inserção como demonstram os nossos escritores bilingues da literatura regional ou alguns representantes da intelectualidade galegófona oficial e a sua necessidade de se verem reconhecidos no mercado linguístico, no âmbito cultural espanhol superordinado ao tempo que fogem do âmbito cultural português e o seu mercado linguístico, onde não existe nenhum interesse pela promoção deles, e que, na aparência, deveria ser o normal para a literatura galega e o novo galego mas que é omitido como estrangeiro enquanto o espanhol é assumido como próprio.
Nos seus aspetos puramente estruturais, o novo mercado secundário ou subordinado é, como esperável, uma reprodução mimética da apropriação (ou seja, construção) capitalista da língua e a sua consequente exploração simbólica (ou cultural) e económica (idêntico, portanto, ao espanhol ou ao português): produção e reprodução de bens culturais, talvez com a particularidade de um acrescentado tudo vale, assente no voluntarismo romântico dos produtores que afinal faz pouco produtivo o negócio (daí a necessidade de aceder ao mercado superordinado, o realmente produtivo).
Apenas o entusiasmo e a ilusão dos primeiros anos podem ainda, sobretudo aos olhos de uns românticos bem pouco revolucionários, ocultar este facto. Junto a isto, ou antes, sobre isto, existe uma política planificada de definição identitária no caminho do politicamente correto, necessariamente estatalista ou nacionalitariamente espanhola, que começa a oferecer os seus primeiros e esperáveis resultados (veja-se o volume sobre atitudes que completa o projeto de investigação e consequente definição identitária que é o Mapa Sociolinguístico).
A ilusão necessária que o Estado tem articulado para controlar o problema galego tem produzido rapidamente os efeitos desejados, o reconhecimento do valor do galego por parte de segmentos maioritários da população (isto é, a sua desproblematização) permite postular, talvez pela primeira vez na história, que se dão todas as condições necessárias para o seu desaparecimento como fala. Para que servem dous códigos com o mesmo valor?
Para que manter, portanto, os dous? Um deles sobra, é antieconómico porque já não é necessário -isto é, produtivo num regime historicamente autárquico mas que tem deixado de sê-lo ao ritmo da globalização capitalista- manter uma das línguas e grandes segmentos da população numa situação desprivilegiada de disciplina-controlo: as condições para o controlo já são outras, plenamente capitalistas, não disciplinárias mais que para os escassos e necessários segmentos dissidentes (em geral coincidentes com posições reintegracionistas).
A língua proletária fica por fim no que nunca deixou de ser: uma palhaçada humanista, populista, miserávelista. A falácia, o véu que dificulta a visão, instala-se agora na aparente bifidez codificada da língua de poder. O que se tem baptizado como co-oficialidade, o bilinguismo institucional da harmoniosa democracia espanhola constitucionalmente sustentada no seu harmonioso exército.
Ainda no caso hipotético, que excluímos, de poder ser considerado como nacionalmente galego um código legitimado pela legalidade nacional espanhola, o problema, como decerto deveriam saber as nossas elites nacionais ex-, a- ou para-marxistas, continua sempre a ser outro muito diferente. Destaca o profundo despreço por parte da nossa sociolinguística nacional e os nossos linguistas propensos ao de “na minha aldeia diz-se assim”, a respeito da complexa heteroglossia do povo elevado a categoria quase-mística no imaginário do nacionalismo galego (povo e língua, fascismo patriótico), mas sistematicamente excluído na questão língua pelos representantes da vontade popular. Destaca igualmente o voluntarismo suspeitoso da nossa sociolinguística nacional que tem produzido milhares de páginas mas que ainda nos não tem oferecido um programa detalhado e coerente da sua política linguística.
Conhecemos, ou conhecíamos o objetivo, a consecução do monolinguismo social; mas como? Através talvez da esperança salvífica no poder de uma Lei (espanhola)? Como espera o nacionalismo galego atingir um estado de monolinguismo social? Bourdieu tem delimitado com precisão a contradição em que se acham os discursos linguísticos dos nacionalismos dominados: a condena iniludível a reproduzir o mesmo, essencialmente fascista, processo de uniformização linguística cujos efeitos tinham previamente denunciado. É o monolinguismo social o estádio último da democratização sociolinguística?
Supõe o monolinguismo social a eliminação das relações de domínio entre classes sociais, o desaparecimento das elites que controlam e exploram simbólica e economicamente o mercado linguístico e consequentemente a própria eliminação da versão capitalista deste, a supressão do desequilíbrio social e o exercício da violência simbólica que provém do controlo ou não da língua legítima? É essencialmente melhor, menos perverso, o monolinguismo social do que o bilinguismo social? Por que a sociolinguística nacional não leva até às suas últimas consequências o seu uso do conceito diglossia?
Ou antes, por que foge dele, através da sua manipulação? Por que, enfim, a estrutura de dominação que subjaz à distribuição socioletal é considerada como normal quando existe uma única língua e como anormal quando existem duas? É língua de poder, dominante, o espanhol falado por um yonki moribundo num bairro da Corunha? É língua de não-poder, dominada, o galego falado por um catedrático mesmo na Universidade opus-meilanista ou uma deputada mesmo no Parlamento hispano-fraguista?
Como é possível que ainda haja necessidade de formular estas perguntas? Afirmo, decerto, a existência de um silencioso genocídio que afeta o povo (comunidade imaginada) que fala o português da Galiza ou galego (particular representação grupal) pela sua potencialidade como elemento desintegrador da unidade do incompleto projeto de Estado-Nação que é a Espanha; desintegrador essencialmente na perspetiva lusista, praticamente os únicos usos de galego que estão a sofrer repressão (disciplina) na atualidade.
Mas isto não pode implicar o esquecimento de que o construto Língua (como o é o construto Povo, como é o construto Nação, como é o construto Deus) é um conceito fascista, omnipotente, uniformizador e excluinte do desejo que se exprime nas práticas incontroláveis e babélicas da fala quotidiana que quebram, em deriva libertária, o carácter reacionário dos códigos puros extremamente representados simbolicamente na posição estrutural dos académicos e dos construtores de Língua, puristas interessados do padrão, de qualquer padrão, mesmo deste que utilizo.
O poder já fala galego e, ao tempo que o povo falará maioritariamente espanhol, provavelmente ainda o há-de falar muito mais como bom exemplo da sua desproblematização política e a sua reterritorialização ideológica como nova epiderme da língua do poder. É por isto o poder já essencialmente bom ou deriva-se talvez deste facto uma mudança revolucionária que subverta a barbárie em que nos fazem viver, em que nos deixamos viver? Agora que cada vez se acha mais próximo o acesso ao poder institucional das elites nacionais galegas no grau suficiente como para poderem agir, há que começar a perguntar cousas tais como se a normalidade linguística que desejam as nossas elites nacionais é a normalidade linguística do Estado capitalista. Uma estética mudança de um sistema de normas por outro sistema de normas mimeticamente reproduzido mas com código de nome diferente?
Substituir o código de poder espanhol polo código de poder galego (sem dúvida graficamente inçado de enhes, ainda que isso, obviamente, é o de menos) num governo nacionalista suporá uma radical mudança do sistema capitalista de dominação através da língua? Qualquer galego ou galega que não possua completa perícia no código de poder terá a possibilidade de ser representante legitimado do povo, poderá aceder aos âmbitos de poder, poderá ser elite? O conhecimento da língua legítima deixará de ser condição obrigada para a melhora das condições socioeconómicas?
Ou talvez o nosso futuro governo nacionalista eliminará antes, de acordo com a sua pretérita ideologia, o sistema de classes e os grupos privilegiados ou elites? O poder, que nos não enganem, é essencialmente monolingue, ainda que na realidade-democracia (e noutras) tenha aprendido a modular muito bem as suas vozes, a aparecer-se como heteroglóssico através de inumeráveis canais de comunicação, novos e velhos aparelhos ideológicos, ainda que tenha apreendido a nos adular, a nos fazer promessas de transformações, de mudanças radicais, ainda que exalte falazmente a diferença, o polimorfismo, a multiplicidade de aparência niilista, ainda que tenha apreendido a nos falar de um presente de liberdade, de um futuro de prosperidade e igualdade, de progressismo, de solidariedade.
O poder está unido à diglossia, mas de jeito muito diferente a como no-lo têm contado o discurso nacionalista. A oposição estabelece-se entre a sua natureza monolingue e o carácter heteroglóssico dos indivíduos sobre os que age, sobre o carácter libertário da fala como expressão impossível e instável do desejo. Que nos não engane a falácia de uma melhor posição estrutural para os que construimos discursos em galego.
A sociolinguística nacional catalã, convenientemente institucionalizada, situada por fim nos âmbitos de poder tão desejados, esquece o conflito (para eles tem desaparecido), a diglossia (para eles nunca existiu) e postula a normalização: a adaptação da sociedade aos seus postulados ideológicos para além da sua relocação como elites de poder inquestionadas pelo seu inquestionável passado de luta.
Que é que fará a nossa sociolinguística nacional e o seu inquestionável passado de luta quando alcance os âmbitos de poder? Qual é o plano de trabalho da normalização linguística galega? Como espera atingir o monolinguismo social o nacionalismo galego? Que realidade sociolinguística inventará para nós? Um povo, uma língua, uma nação? Bom ponto à partida para um nacionalismo de esquerdas, embora socioldemocrata! Uma Galiza monolingue em galego talvez nos possa satisfazer esteticamente. Mas eticamente há que denunciar a leitura nacional do monolinguismo como centralização de um discurso cultural que, ideologicamente, é simples conservadurismo etnicista, de base fascista, novo mapa de consignas que vem ocultar mais uma vez o problema: a bestialização a que nos vemos submetidas e submetidos quotidianamente, a barbárie capitalista, o pensamento único, o homicídio da história, a heroína e o álcool, os desportos de massas, a deseducação obrigatória, o silenciamento da Universidade, o terrorismo de Estado, a falácia de democracia, a expropriação das nossas breves vidas…
Enfim, elementos diversos da situação que os comunistas, na sua língua sacra, definem como subsunção real. O final do pensamento.O final do mundo. A língua é uma construção, uma invenção do Estado, e não há que ser Poulantzas ou Bourdieu para sabe-lo nem há que reproduzir mimeticamente as lições aprendidas em mestres ou heróis. O único objetivo só pode ser a destruição do Estado. Guerra ou luta desesperada pela supervivência apenas são questões de grau.
O genocídio que se está a gerar, que se está a cometer cada dia, dista muito de ser apenas a supressão não fisicamente violenta de um determinado grupo etnolinguístico (eutanásia haveria que dizer). Ainda usando a linguagem falaz e apocalíptica de aqueles novos filósofos que, como expressão das formas que a barbárie ia adquirir, nasceram sobre as cinzas da última revolução, há que dizer que vivemos época de holocausto. Mas agora nem é necessário utilizar um forno crematório. A Língua devora as falas num novo prescritivismo escassamente disciplinário. O Estado devora os corpos, e neste processo criativo controla a potência revolucionária do desejo, da festa, e expulsa votantes. Um mundo feliz, sem dúvida. Morto o cão, acabou-se a raiva.
-
Texto originalmente publicado em Çopyright 59, 8 abril 1998

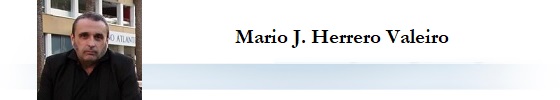
Todo bilinguismo social é uma fase de transição de um unilinguismo inicial numa língua para um unilinguismo final em outra.
Não precisaríamos mais aparato crítico-teórico para chegar a essa conclusão.