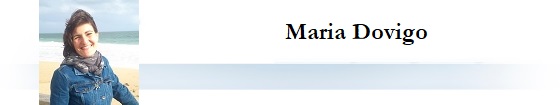Uma das observações que me ficou mais marcada do II Encontro de Mulheres da Lusofonia que a AGLP fez na Casa da Língua Comum em 2018 é que a questão da raça se sobrepõe à da língua. Foi uma das conclusões da socióloga e mediadora intercultural, descendente cabo-verdiana nascida em Burela, Sónia Mendes da Silva, na sua intervenção sobre “Mobilidades sociais em sociedades desiguais”. Habituados como estamos a uma narrativa histórica que vitimiza o povo galego, custa-nos identificar-nos neste reflexo que nos coloca do lado dos privilegiados. A racialização de boa parte da população mundial no contexto da expansão colonial criou estruturas que sobrevivem nas relações sociais, nas instituições, na economia, no imaginário e na cultura a escala planetária, e a sociedade galega não ficou de fora desta construção. A tendência para colocarmo-nos do lado dos bons numa história de opressores e oprimidos não nos ajuda na compreensão do peso que ainda tem o racismo no mundo no século XXI.
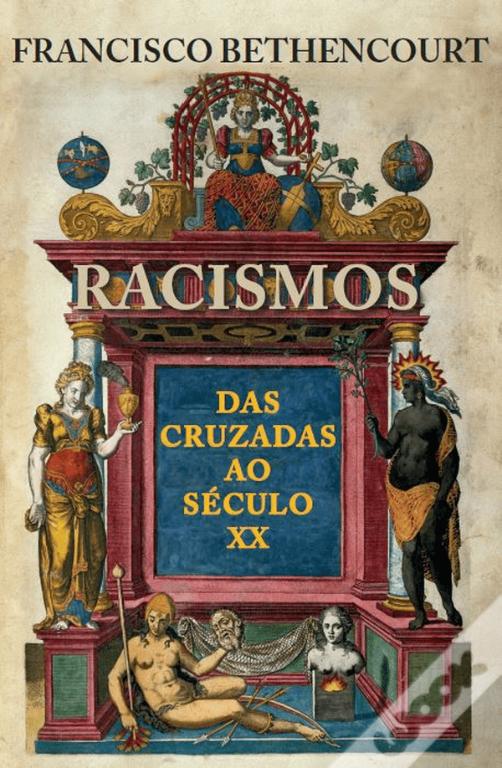 O livro do historiador português Francisco Bethencourt Racismos. Das cruzadas ao século XX i é uma ajuda para percebermos os processos históricos em que se enquadraram práticas segregacionistas e discursos racistas. Francisco Bethencourt é titular da cátedra Charles Boxer de História no King’s College de Londres. Charles Boxer, historiador especializado na história colonial portuguesa e holandesa, foi o autor do livro Race relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825, publicado em 1963, que trouxe a público uma perspetiva bem diferente das teorias luso-tropicalistas de Gilberto Freyre, com a sua visão do imperialismo português como imperialismo mais benigno. Nos anos 60 a teoria de Freyre tinha-se convertido no discurso oficial do regime salazarista, inspirando as medidas legislativas adotadas pelo ministro de ultramar Adriano Moreira. A discussão sobre o papel de Portugal, como potência colonial intercontinental que foi, no espalhamento da discriminação em função do fenótipo a escala planetária vem de longe.
O livro do historiador português Francisco Bethencourt Racismos. Das cruzadas ao século XX i é uma ajuda para percebermos os processos históricos em que se enquadraram práticas segregacionistas e discursos racistas. Francisco Bethencourt é titular da cátedra Charles Boxer de História no King’s College de Londres. Charles Boxer, historiador especializado na história colonial portuguesa e holandesa, foi o autor do livro Race relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825, publicado em 1963, que trouxe a público uma perspetiva bem diferente das teorias luso-tropicalistas de Gilberto Freyre, com a sua visão do imperialismo português como imperialismo mais benigno. Nos anos 60 a teoria de Freyre tinha-se convertido no discurso oficial do regime salazarista, inspirando as medidas legislativas adotadas pelo ministro de ultramar Adriano Moreira. A discussão sobre o papel de Portugal, como potência colonial intercontinental que foi, no espalhamento da discriminação em função do fenótipo a escala planetária vem de longe.
O livro apresenta algumas hipóteses de princípio cuja discussão excede os limites deste comentário (e os meus conhecimentos académicos) e que deixo simplesmente enunciadas. Em primeiro lugar que o racismo, entendido como combinação do preconceito e de ações discriminatórias, foi sempre motivado por projetos políticos que têm como finalidade a monopolização dos recursos. Em segundo lugar, que as práticas discriminatórias são anteriores à sua teorização; a teoria das raças começou a ser desenvolvida nos séculos XVIII e XIX, após séculos de práticas racistas sistemáticas nas sociedades coloniais. Outro princípio é que para compreendermos o racismo é preciso combinar a história social e a cultural. Seguindo esta afirmação o autor percorre a construção do racismo através de variadas disciplinas para além da história, a filosofia ou a antropologia, integrando, entre outras, a cartografia e as artes. Por último, afirma que não há tradição contínua do racismo em Ocidente.
O livro divide-se em cinco partes: Cruzadas, exploração oceânica, sociedades coloniais (séculos XVI ao XIX), teorias de raça (séculos XVIII e XIX), nacionalismo e mais além. Os longos lapsos de tempo qua abrangem permitem enquadrar a construção do racismo em demorados e complexos processos históricos, como são as empresas expansionistas, e ver a sua ligação com as relações sociais, as resistências, as manifestações culturais, as ideias e as teorizações. Destaco alguns temas de especial interesse para o contexto galego, entre os muitos temas e episódios relatados neste livro panorâmico de quase seiscentas páginas:
– O registo das práticas racistas na Península Ibérica desde o tempo das cruzadas e a conquista dos reinos muçulmanos até à formalização do estatuto da limpeza de sangue, assim como o relato dos objetivos políticos (o estabelecimento de um projeto centralista) e sociais (a necessidade de afirmação identidade dos cristãos velhos, imagem da pureza étnica peninsular) de tal estatuto. A segregação racial foi um instrumento para a afirmação das elites dos dous estados ibéricos no contexto da guerra contra os reinos muçulmanos.
– O começo nas Cruzadas e o foco na Península Ibérica, o relato de como é que as Cruzadas, a conquista dos territórios dos reinos muçulmanos e a construção racializada da imagem da humanidade se cruzam. Foi como resultado deste demorado processo histórico que o Mediterrâneo se converteu com a expansão europeia do século XVI numa fronteira civilizacional, algo que não aconteceu nem com o império romano, nem com a expansão muçulmana.
– Derivada desta fronteira entre o norte e o sul do Mediterrâneo, a criação do imaginário sobre os continentes que ainda sobrevive. Em um primeiro momento este imaginário cristalizou na associação da Europa às artes liberais, imagem exemplificada no Theatrum Orbis Terrarum de Abraão Ortélio (publicado em Antuérpia, 1570, e considerado o primeiro atlas moderno) que serve de capa à edição portuguesa que aqui comento. Também na associação entre a Ásia e o exótico, com continuidade em toda a tradição do orientalismo, ou na imagem duma América primordial, natural, útil para refletir sobre a civilização corrupta, tão em boga no século XVIII. Duas das pervivências mais influintes, a meu ver, deste imaginário é a crença na superioridade dos conhecimentos europeus e a associação entre o Ocidente e a novidade.
– As tensões entre o universalismo dos impérios e da Igreja como argumento de legitimação e as lógicas locais, assunto sobre o que se debruça de maneira intermitente ao longo do livro. O autor faz questão de destacar o papel ativo das sociedades que sofreram a colonização e a sua capacidade para contrariar ou mudar as políticas colonizadoras, relato que não é habitual na história que recebemos por via institucional.
– As teorias de raça nos séculos XVIII e XIX, as polémicas científicas e a sua utilização política, assim como as referências aos “racismos internos”, especialmente ao irlandês, à associação entre camponeses europeus e os não-europeus, os racializados, no contexto duma visão planetária e hierárquica da humanidade.
Embora o foco do livro não seja o império português, a sua leitura dá contextos para compreender o papel deste, junto ao de outros estados europeus, na construção do racismo a escala planetária em dous momentos: a expansão ultramarina dos séculos XV e XVI e a colonização de África nos séculos XIX e XX. Embora se possam encontrar preconceitos contra outros povos baseados na ascendência desde a Antiguidade, esses dous momentos deram azos à classificação das variedades de seres humanos como modo de justificar as hierarquias numa escala desconhecida anteriormente. Com a expansão europeia as características fenotípicas tornaram-se essenciais na definição de tipos de humanidade, uma novidade que trouxe o mundo moderno. A escravatura existia no mundo antigo e medieval, mas cabe à expansão europeia a responsabilidade pela associação entre escravatura e fenótipo. Termos consciência de como e porque se constrói a desigualdade e também termos consciência das estruturas que deixou na civilização a racialização da humanidade é um conhecimento necessário para acompanharmos as discussões dos movimentos sociais e da academia sobre o que seja a identidade portuguesa na história e no momento presente e a participação dos afrodescendentes no tecido nacional.
Este livro foi alvo de alguma contestação na imprensa portuguesa. Se bem há variados estudos que desmontam a tese do imperialismo “brando”, continua a haver firmes defensores da excecionalidade do imperialismo português como imperialismo ecuménico, fraterno e mestiço. Este é, em grande medida, o discurso oficial, como ficou manifesto nas declarações que o presidente da república fez em 2017 na ilha de Gorée no Senegal, antigo entreposto de tráfico de pessoas escravizadas usado pela coroa portuguesa durante séculos. Marcelo Rebelo de Sousa foi criticado por académicos e membros de movimentos cívicos por aproveitar o momento para falar da abolição da escravatura em Portugal em vez reconhecer o papel da coroa portuguesa no tráfico de cinco milhões de pessoas das costas ocidentais africanas para a Europa e sobretudo para o Brasilii.
Para além da utilidade do livro para o contexto português, brasileiro e africano, o livro também é útil para o contexto espanhol na medida em que dá outros referentes para a compreensão da construção da desigualdade e a opressão na empresa centralista espanhola, em contexto ibérico e em contexto americano. As práticas discriminatórias como instrumento político da monarquia hispânica bem mereciam um estudo sistemático que conseguisse dar um enquadramento político ao repertório secular de imagens degradantes do “galego”, como esboçado no estimável estudo de Xesús Caramés Martíneziii. Também para compreender outros ângulos de análise para o nosso século XIX, por diversas razões que vão das motivações das vagas migratórias em direção à América aos usos do termo raça no discurso público, político, científico ou literário, questão sobre a que não tenho encontrado mais trabalhos sistemáticos que o de Fernando Pereira, Raza e alteridade. A reflexión sobre a diversidade humana na Galiza do século XIXiv, ensaio que se debruça sobre textos com vocação científica produzidos na Galiza deste período.
O interesse por abordar a questão do racismo em contexto galego supõe algumas tarefas e motivações urgentes: mover o foco da produção de discurso sobre a identidade para a alteridade, do diferencialismo para o sentido de comunidade; vermos a discriminação não como resultado de um enfrentamento étnico mas de projetos políticos e económicos, de consolidação dos projetos políticos de determinadas elites, as elites guerreiras que conquistaram os reinos muçulmanos ibéricos ou os bancários que pagaram a guerra a Franco; deixarmos de vez o relato histórico simplista de bons e maus e compreendermos que o nosso passado recente de povo discriminado não nos dá um álibi eterno para estarmos do lado dos bons em qualquer território e circunstância; entendermos a Galiza como construção política que não pode sobreviver isolada, que precisa de viver em relação com outras comunidades humanas com as que tenha afinidades e possa estabelecer alianças na consecução de objetivos comuns. É belo o poema “Irmãos” de Celso Emílio Ferreiro, mas nem a irmandade é cousa que se imponha nem o amor pelos outros é cousa que não passe por conhecer o seu relato. E estarmos preparados para mudar o nosso.
Notas:
i Francisco Bethencourt, Racismos. Das Cruzadas ao século XX, Temas e Debates, 2015 (original inglês: Racisms- From the Crusades to the Twentieth Century).
iii Xesús Caramés Martínez, A imaxe de Galicia e dos galegos na literatura castelá, Galaxia, 1993.
iv Fernando Pereira, Raza e alteridade. A reflexión sobre a diversidade humana na Galiza do século XIX, Deputación provincial da Coruña, 2001.