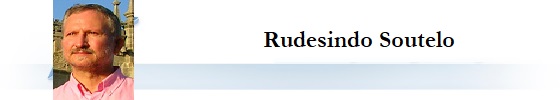Tinha um amigo amante da patafísica[i], muito sorridente e resolutivo que, quando lhe perguntavam pelo signo astrológico, sempre respondia que era Elephas. A resposta era tão categórica que desarmava os possíveis argumentos uranoscópicos dos interlocutores.
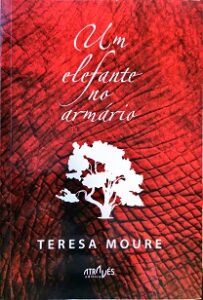 A mística dos elefantes é geralmente muito benévola. Uma amiga que criava e colecionava pequenas figuras destes paquidermes ─sempre com a tromba erguida, porque as percebia como portadoras da boa sorte─ olhando pelo meu porvir, ofereceu-me um simpático elefantito cor de rosa que, pelo sim ou pelo não, ainda conservo. A cor denota sensibilidades iniciáticas duma zoomorfia esotérica alheia à pigmentação natural da epiderme destes mamíferos proboscídeos. Também há elefantes brancos para inocular dispendiosos ares de grandeza nos pobres de espírito, e que sempre se vêm a revelar incomportáveis e de nulo proveito.
A mística dos elefantes é geralmente muito benévola. Uma amiga que criava e colecionava pequenas figuras destes paquidermes ─sempre com a tromba erguida, porque as percebia como portadoras da boa sorte─ olhando pelo meu porvir, ofereceu-me um simpático elefantito cor de rosa que, pelo sim ou pelo não, ainda conservo. A cor denota sensibilidades iniciáticas duma zoomorfia esotérica alheia à pigmentação natural da epiderme destes mamíferos proboscídeos. Também há elefantes brancos para inocular dispendiosos ares de grandeza nos pobres de espírito, e que sempre se vêm a revelar incomportáveis e de nulo proveito.
No hinduísmo o elefante encarna a figura de Ganesha, deusa da ciência, a beleza e a sabedoria, mas para os ocidentais representa o peso, a lentidão e a falta de jeito. Duas leituras antagónicas do mais corpulento mamífero terrestre da atualidade.
Desde que Nietzsche publicitara em 1882 a morte de Deus em A Gaia Ciência, a prazerosa volúpia do pecado esvaiu-se e o sentimento de culpa ficou desprovido do conforto da contrição. É certo que, quando se mata algo fictício, nos estertores da morte multiplicam-se as aparições apocalípticas, num último intento de amedrontar os ousados descrentes, mas os novos imaginários acabam por se impor àquela decadência moribunda. A perda de Deus marcou o início do modernismo e os pensamentos tornaram-se “as sombras dos nossos sentimentos – sempre mais escuros, mais vazios e mais simples”[ii] a crescerem de modo elefantíaco. Umas sombras que afundam muitas pessoas na insignificância. Um tenebrismo que abate personagens brilhantes. Uma culpa que queremos esconder ao resto do mundo.
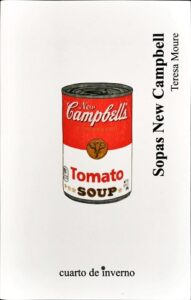 Quando as teorias religiosas iniciaram o seu declínio, os manuais de medicina de finais do século XIX começaram a admitir um termo que, só após a segunda grande guerra, se vai transformar em doença. Aquilo que antes era obra do diabo ou mesmo um castigo divino que se tratava com preces, ladainhas, cilícios, ou exorcismos, vai-se transformando em diversos desassossegos mentais comummente conhecidos por depressão. E como deus já sucumbira ao embate da ciência, as metáforas tornaram-se profanas e os elephantes entram nas vidas de porcelana.
Quando as teorias religiosas iniciaram o seu declínio, os manuais de medicina de finais do século XIX começaram a admitir um termo que, só após a segunda grande guerra, se vai transformar em doença. Aquilo que antes era obra do diabo ou mesmo um castigo divino que se tratava com preces, ladainhas, cilícios, ou exorcismos, vai-se transformando em diversos desassossegos mentais comummente conhecidos por depressão. E como deus já sucumbira ao embate da ciência, as metáforas tornaram-se profanas e os elephantes entram nas vidas de porcelana.
A literatura sempre tratou desses grandes vácuos do quotidiano com o cuidado minucioso dos ourives e preenchia-os de deuses ou santos de estimação. Aquele tédio agora é ocupado por zoomorfologias múltiplas com tendência para os de maior porte, como os paquidermes ─dado que os dinossauros há tempo que foram extinguidos─ e os armários, esses móveis compartimentados onde se arrumam as coisas da vida, começaram a povoar-se de elefantes. Teresa Moure teve de criar uma nova linha de Sopas New Campbell[iii] para dar saída ao exceso de carne produzida por Um elefante no armário[iv]. Leituras altamente gratificantes pela preciosidade da escrita e que nos fazem refletir sobre esse armário que cada um de nós transporta na solidão de uma tumultuosa existência.
Elephas era a metáfora zodiacal que povoava o armário do meu sorridente amigo patafísico, mas, como bem conclui Teresa Moure, os elefantes metafóricos não se comem.
© 2020 by Rudesindo Soutelo
(Vila Praia de Âncora: 15-9-2020)
Notas
[i] Termo cunhado em 1898 por Alfred Jarry na sua obra ‘neocientífica’ Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Foi publicada, após a morte do autor, em 1911 e está disponível em https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113964m
[ii] Nietzche, F. (1882). A Gaia Ciência. Aforismo 179.
[iii] Moure, T. (2020). Sopas New Campbell. Arzúa (Galiza): Cuarto de inverno.
[iv] Moure, T. (2017). Um elefante no armário. Santiago (Galiza): Através editora.